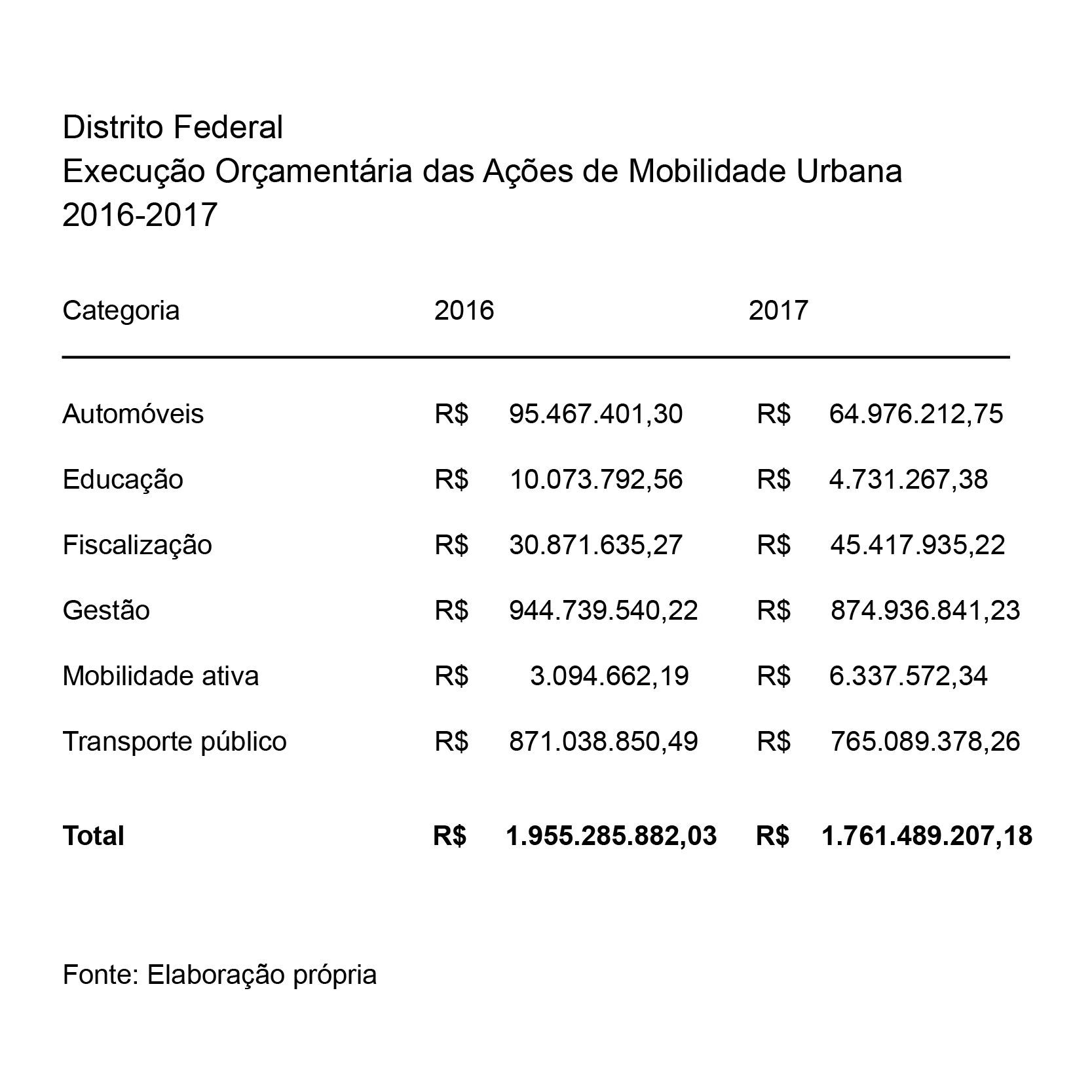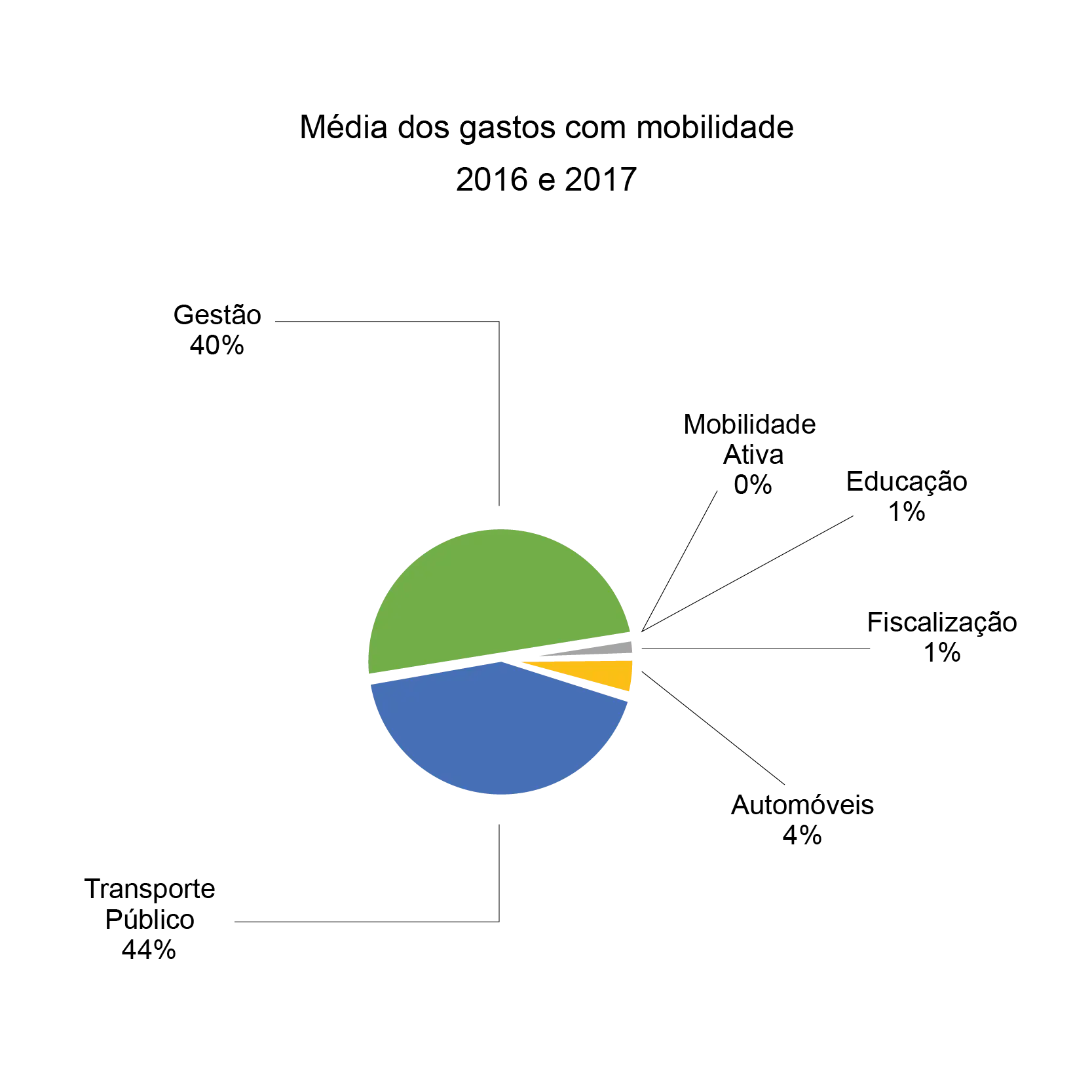É notório o acelerado processo de desconstrução dos direitos socioambientais erigidos em grande parte na Constituição Federal de 88, mas também em legislações infraconstitucionais, em atos administrativos e na estruturação de instituições com missão de fazê-los cumprir. São muitas as mudanças e evidências nessa direção, mas vale chamar atenção para três marcos desse processo e sua cronologia a qual também tem um papel revelador:
- A aprovação de um Novo Código Florestal em 2012 que trouxe transformações paradigmáticas na forma como o proprietário privado deveria lidar com seu passivo ambiental e com a proteção ambiental, entre elas destacamos: i) redução do patamar de proteção ambiental com diminuição das Áreas de Reserva Legal e de Preservação Permanente; ii) anistia do desmatamento ilegal em terras privadas; iii) criação de um mercado de compensações ambientais como forma de resolver o restante do passivo ambiental que não foi anulado. A construção e aprovação deste Código foi também um marco político para o avanço da pauta do agronegócio no Congresso Nacional. Nada mais ilustrativo do que a fala pública da bancada ruralista em março de 2011 no relançamento da Frente Parlamentar da Agropecuária anunciando que tinham “força e objetivos” e que depois do Código Florestal estariam unidos para combater o que consideravam a “farra de criação de unidades de conservação e áreas indígenas”.
- A ofensiva sistêmica para reduzir ou desafetar Unidades de Conservação, por meio de sucessivas Medidas Provisórias e Projetos de Lei. O processo iniciado em 2012 por Medida Provisória com o objetivo de viabilizar a instalação de grandes projetos hidrelétricos na Amazônia foi amplamente potencializado pela força e pressão da bancada ruralista. Estudos apontam que as medidas legislativas em curso para reduzir área ou grau de proteção ambiental alcançam 80 mil quilômetros quadrados.
- Iniciativas no Legislativo, e agora também no Executivo e Judiciário,de barrar a demarcação de Terras Indígenas. A despeito da força da bancada ruralista no Congresso Nacional, a forte capacidade de resistência do movimento indígena e aliados tem conseguido barrar há mais de 10 anos as tentativas de aprovação da PEC 215. No contexto mais recente – de pesadas negociações entre governo e sua base de apoio no Congresso Nacional para garantir a condução de reformas ultra neoliberais e impedir abertura de processos investigativos contra Temer – ampliou-se sobremaneira a articulação de interesses entre governo e bancada ruralista tendo como uma das moedas de troca o fim das demarcações. Expressão deste movimento é o Parecer da AGU – Advocacia Geral da União, o qual estabelece que a decisão do Supremo Tribunal Federal(STF) sobre a Raposa Serra do Sol vale para toda a administração; em outras palavras, trata-se da interpretação do marco temporal segundo o qual só são terras indígenas as ocupadas por índios na data da promulgação da Constituição. Também no STF segue em frente a estratégia de pautar ações sobre a constitucionalidade de demarcações com base no argumento do marco temporal.
- A Medida Provisória 759 transformada na Lei13.465/2017 que, entre outras medidas, atribui um prazo mais restrito para que o Incra emancipe os assentados do Programa Nacional de Reforma Agrária sem que a eles tenham sido garantidas as condições de produzir e sobreviver na terra. Na prática, e no contexto de desmonte das políticas de reforma agrária e agricultura familiar, a medida visa garantir que terras “retiradas do mercado” pela Reforma Agrária sejam a ele devolvidas. A nova Lei também abre a possibilidade ampla e irrestrita de regularização fundiária de latifúndios, expandido a política já crítica de regularização fundiária na Amazônia denominada “Terra Legal”.
Estes exemplos expressam um desmonte de direitos socioambientais que é parte de um fenômeno de mais de uma década de renovação do pacto de poder conservador que interpenetra os campos econômico e político vinculados à expansão do domínio do agronegócio – ou o que Alfredo Wagner denominou agroestratégias – sobre terras e recursos. Expansão, por sua vez, também alimentada pelo recente ciclo de commodities, puxado pela China, e pela atitude pragmática do Estado brasileiro, assim como dos países da região, de aprofundamento do papel primário exportador do país na divisão internacional do trabalho historicamente estabelecida. Os dados são ilustrativos deste movimento. Em 2000 os produtos primários respondiam por 41,6% das exportações totais do país, em 2015 esta participação subiu para 61,9%, uma taxa de crescimento de 49% para o período – o crescimento mais expressivo entre todos os países da região.
Mas, se o desmonte da legislação e dos direitos socioambientais não é um fenômeno recente, é inegável que ele se aprofundou, acelerou e ganhou novos contornos a partir da reconfiguração de forças que levou ao impeachment da presidenta Dilma Rousseff.
É nesse novo contexto que (re)surge o discurso de que ao Estado cabe criar um “bom ambiente de negócios” para que novos investimentos prosperem e tirem o país da crise. É parte desse grande “acordo de cavalheiros” a tentativa de se aprovar no Congresso uma Lei Geral do Licenciamento que: agiliza e flexibiliza os processos de licenciamento para grandes obras; dispensa do licenciamento ambiental todas as atividades agrosilvopastoris – independente do porte, da localização, do uso de recursos hídricos etc.; prevê o licenciamento compulsório nos casos em que as autoridades envolvidas não se manifestem no prazo determinado, entre outras maneiras de tornar o processo mais célere e barato, a despeito das suas consequências.
Sob o argumento da crise fiscal, foi operado um rápido desmonte do Estado Brasileiro com a aprovação de mudanças estruturais que estão, entre outras coisas, fornecendo os ingredientes que faltavam para a estratégia de “liberação” de terras e outros recursos naturais. As legislações, instituições e políticas socioambientais vigentes atuam para garantir o domínio de povos indígenas, quilombolas e assentados, entre outros, sobre suas terras e territórios. Por isto e a despeito da sua fragilidade, elas representam um obstáculo à apropriação de terras e recursos por grupos econômicos privados ligados ao agronegócio, à mineração e à investimentos em infraestrutura funcionais ao escoamento da produção primário-exportadora.
Em outras palavras, um ponto a considerar é que o desmonte da Funai, do Incra, do extinto Ministério do Desenvolvimento Agrário, da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, do ICMBio, serve apenas marginalmente ao propósito de reduzir gastos estrangulados pela Emenda Constitucional N° 95 (o teto dos gastos), visto que sempre foram instituições e políticas marginais na estrutura do Estado e do orçamento público. O desmonte das políticas públicas socioambientais, construídas em grande parte em função da luta dos movimentos e organizações sociais serve, mais que isso, ao propósito de desconstruir direitos, identidades e favorecer o discurso de que a saída não passa pelo Estado e pela garantia de direitos e sim pelo mercado. Sob esta lógica, a alternativa para os povos indígenas seria, por exemplo, arrendar suas terras para o agronegócio, aceitar a mineração ou transformar-se em agricultores integrados à agricultura de grande porte.
Tamanho desmonte não foi, portanto, construído da noite para o dia, e não será desconstruído facilmente pois expressa um conjunto de forças que ganha um terreno mais fértil para prosperar no ambiente de múltiplas crises em que o Brasil foi mergulhado. Mas a história recente tem nos mostrado que tais forças possuem raízes profundas. A criminalização dos movimentos sociais, seguida do crescimento das mortes e das chacinas no campo revelam o quanto esse processo é indissociável da violência que nos constitui enquanto nação.